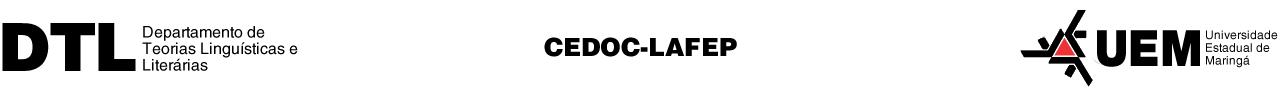Entrevistas
ENTREVISTA A LUCI COLLIN, POR ELEONORA FRENKEL
1. Enquanto Professora de Literaturas em Língua Inglesa da UFPR, você certamente não se restringe a elas em suas reflexões teóricas ou criações literárias; seu mapa literário é bem mais amplo. O que você pensa sobre as divisões territoriais da Literatura, definidas por limites geopolíticos e/ou linguísticos? Acredita possível (e relevante) diluir essas fronteiras no ensino da Literatura?
Cumpri, tanto na minha formação como professora quanto como escritora, uma trajetória bastante eclética, sempre buscando frequentar literaturas de distintas culturas, estudando alguns idiomas para poder fruir de expressões literárias no original ou confiando no engenho de bons tradutores dos vários idiomas que não domino. Claro que o “material” da literatura - que é a palavra – nos leva a uma definição de limites e há que se considerar que, diferentemente de outras artes mais abstratas ou com códigos mais abertos, implicações culturais, sobretudo as linguísticas, marcam intensamente o fenômeno literário. Contudo, não ver a literatura como uma expressão maior, compartimentando-a de acordo com fronteiras, nos faz perder a dimensão estética que a literatura naturalmente carrega. Tento professar literatura enquanto arte, estimular experiências e percursos de leitura para além da noção de “literaturas de língua inglesa” e, quando possível, para além, inclusive, da noção de literatura enquanto fenômeno isolado. Gosto muito da relação interartes e das quebras de limites entre as linguagens artísticos. Ensinar isto, não sei se faço – talvez melhor seja dizer que tento mostrar alguns elementos/caminhos e a Literatura, esta sim, por sua força intrínseca, se configura a própria e a máxima diluição das fronteiras.
2. “A modernidade começa com a busca de uma Literatura impossível”, afirma Roland Barthes em O grau zero da escritura (1953), ao ler narrativas da segunda metade do século XX que se propunham a destruir as convenções. Como você joga, em sua literatura, com as categorias tradicionais da narrativa? Aceita a provocação de que a “sintaxe desajustada” de seus contos corrompe a narratividade?
Inicio discutindo a palavra “destruir” enquanto proposição da narrativa pós-moderna; há antes, na postura desta narrativa, uma premente necessidade de inovação e de invenção – a mesma que encontramos nos modernos, nos pré-modernos e remotamente em autores como Dante, Chaucer, Shakespeare – eles não destruíram meramente, eles ousaram criar o diferente. Flaubert, em pleno Realismo, ainda que não tenha conseguido concretizar seu desejo, já falava em escrever livros “sobre nada”; este desejo de Flaubert acaba se apresentando em textos de outros escritores posteriores que, como Gertrude Stein, por influência do escritor francês, reagiram (“destruíram”) contra as limitações da descrição e da estrutura didática de começo, meio e fim. O movimento é sutil – não se constrói nada a partir de uma destruição total e não há porque tentar esta expressão radical; se constrói a partir da tradição, mas ousando empurrar os limites da feitura literária - tanto em forma quanto em conteúdo -, os limites da percepção e da participação do leitor do/no texto, os limites entre o que é o “literário” e o que é o plástico, o visual, o melódico, o tátil, o rítmico. Na minha literatura eu “jogo” com muito respeito pela tradição e, como artista, tenho o compromisso de tentar expandir estas categorias tradicionais. A sintaxe desajustada dos meus contos é expressão e consequência de minha reverência pelo meu papel do escritor e do artista – impulso de inovação que não corrompe para destruir, mas que tenta brincar com a convenção para talvez suscitar outras experiências de leitura, de fruição.
3. Poderia se dizer que alguns de seus textos “que nada informa[m] que nada explica[m] que nada traça[m] que nada insta[m]” (Acasos Pensados, 2008) privilegiam a escuta, tal como a apresenta Jean Luc Nancy: um esforço “por captar ou surpreender a sonoridade e não tanto a mensagem?” (A la escucha, 2007). Assim entendida, a escuta seria uma abertura ao sentido sensível, mais que ao sentido sensato, e colocaria em questão a noção de sentido, que deveria deixar de se conformar em ser logos e passar a se pensar como ressonância.
As reflexões de Nancy são fascinantes e eu me sentiria muito pretensiosa se assumisse que vejo na minha modesta literatura todo o espectro do sentido que esta pergunta discute. Por influência de meus estudos de música, a minha literatura apresenta elementos exacerbados de sonoridade e rítmica e eu sempre, franca e deliberadamente, intento criar textos orgânicos em que a forma, a técnica ou ainda o conteúdo não se apresentem de modo previsível. Tento o convite para construções de experiências um pouco diferentes com a palavra – investindo mais na pulsão da palavra em si e menos em seu sentido explicativo ou descritivo. Acredito que desestabilizar um pouco a leitura é a gênese de emoções mais surpreendentes, de expressões de mais liberdade. A ressonância é um fenômeno belíssimo – fazer vibrar sistemas por estímulos na mesma frequência. Oxalá eu algum dia realize isto em algum texto meu!
4. A Literatura é um espaço para expor a linguagem e a comunicação em estado de crise? O modo pelo qual aparecem o discurso científico e o midiático em seus contos tem algo a ver com essa exposição?
Sim, o esvaziamento da linguagem e da comunicação, esta crise de sentidos e a condição patética que caracteriza o discurso contemporâneo, a falácia e a vaziez do discurso científico e da mídia são temas que eu, com constância, exploro na minha literatura. Esta intenção na literatura se evidencia sobremaneira nos autores do teatro do Absurdo (Ionesco, Beckett e outros) e também do Nouveau Roman (Robbe-Grillet, Sarraute, Cortázar, Butor e demais) que eu sempre aponto como grandes influências que recebi. E, sim, a exposição de realidades tão patéticas não deve ser apenas denúncia, sendo antes um amoroso convite para a reflexão – às vezes pelo riso, às vezes pelo se perceber cara a cara com o páthos.
5. Encontram-se diversos exemplos de correspondências entre escritores e artistas, desde as cartas trocadas entre Cézanne e Zola e o romance que este lhe dedicou; as cartas escritas por Rilke a sua esposa, com as descrições dos quadros de Cézanne; as missivas de Juan Carlos Onetti e Julio Payró; as reflexões de Artaud sobre Van Gogh; a epígrafe de Clarice Lispector dedicada a Michel Seuphor, entre muitos outros. Que correspondências você estabeleceu ao longo de sua trajetória com as artes e os artistas?
Na juventude mantive alguma correspondência com Dias Gomes e João Antônio – grandes mestres. Em 1994 iniciei uma troca de cartas com o poeta e ecologista norte-americano Gary Snyder (o “Japhy Ryder” do livro Os vagabundos iluminados de Jack Kerouac) que se mantém até hoje. Snyder é meu maior “amigo literário”, além de ser uma grande influência por sua experiência como zen-budista; ao longo de todos esses anos Snyder tem sido uma presença especialíssima na minha vida, pelos conselhos (literários ou outros), pelo exemplo, pela relação que ele mantém com o fazer literário. Devo muitas descobertas a ele e mantenho uma enorme reverência por sua pessoa e por sua comovente poesia.
6. A paródia é crítica? Por que optar por ela?
A paródia é um recurso artístico muito rendoso porque ajuda a potencializar o texto e a fazer com que ele se amplie em termos de perspectivas interpretativas. É uma forma de crítica, mas que, pela sutil imitação, objetiva levar a um primeiro plano características, estilos, ideias, sistemas, o que seja, não pela intenção moralizante e sim pela reflexão. ‘Par-ódia’ significa ode ou canto paralelo; Aristóteles já descrevia o poderoso efeito deste tipo de imitação que expõe a exaustão e o absurdo de certos temas. O ensejo não é ridicularizar nada nem ninguém e sim ampliar os sentidos do texto e da leitura. Muitos dos meus textos já irritaram alguns leitores que viram neles uma ação de crítica ou de deboche; quando escrevo não tenho o menor intuito de ridicularizar pessoas ou suas ações – quero dividir observações, apenas, e, se der sorte, suscitar alguns questionamentos.
7. Por que você gosta de traduzir?
O que me aproxima da tradução é o mesmo impulso que me leva a escrever e a dar aulas: vontade de dividir algumas sensações, dúvidas e emoções que surgiram de leituras de textos marcantes para mim. Vale lembrar que, não sendo tradutora profissional, posso escolher traduzir autores ou obras que me impressionaram e que eu gostaria de ver disponíveis para o público leitor em português. O prazer de traduzir é indescritível – misto de soluções e frustrações, cujo resíduo é a compensação de contribuir para que alguns textos especiais, existindo em português, possam comover alguns leitores especiais.
8. Quais serão seus próximos livros?
Ainda no primeiro semestre deste ano, (significativo pra mim porque completo trinta anos desde a publicação de meu primeiro livro o Estarrecer, de 1984), vou lançar um livro de poesia por uma editora do Rio de Janeiro. Tenho um projeto pendente para lançar outro de contos. Termino a revisão um romance muito colliniano (pra não dizer “maluco”, sejamos eufemísticos) que não tem editor, mas terá (sejamos otimistas). No mais, manter a liberdade de deixar que os textos – provocativos, parodísticos, dramáticos, polêmicos, divertidos, graves, leves, ininteligíveis ou como forem - se apresentem sem pressa, quando quiserem se apresentar.
(REVISTA SUBTRÓPICOS, fev. 2014)