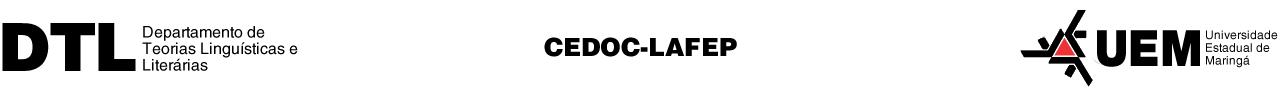Fragmentos
POEMAS
QUASE REBELDIA
Chega de versos melosos, caudalosos,
que acompanham os momentos
de desatino.
Rompi com o destino!
Mesmo os momentos amorosos
serão mais curtos e secos.
Navegarei mares incertos,
não terei medo de becos escuros,
de passar por grandes apuros
ou atravessar longos desertos.
Chega de versos saudosos, lamentosos,
que acompanham os momentos
de solidão.
Rompi com a emoção!
Os punhais serão mais racionais
e os romances serão mortais.
Enquanto viverem, os amores serão rasos
como raízes em vasos;
suas marcas serão superficiais
e jamais exalarão perfumes florais.
Os versos serão brancos e secos
como os vinhos da noite fria,
que é estéril e nada cria.
Mas a criação, criatura ingrata
na folha esculpida,
desata a forma da vida
e revolta-se contra o criador,
chorando pelas entrelinhas
sob o ritmo romântico
das marchinhas.
Os versos saem cheios de amor provinciano
e abdicam da oportunidade
de tornarem-se poesia.
Para o criador,
nada de fotografia!
Talvez num outro dia
dê resultado a euforia
de sua quase rebeldia.
AINDA FALTA CHUVA
a Oswald de Andrade e Manuel Bandeira
Chove, chuva, choverando...
Bandeira!
Oswald está lá, na página,
quase me falando,
no silêncio da palavra
não falada;
tempo em que não consigo estar.
Verso negado!
Na secura de minha alma
chovechorando
o non sense
da imagem escrita,
quase sempre
não percebida ou decifrada.
Choverando
sobre o expressamente impresso,
chovechorando
minha alma seca,
que só pensa
com o coração
e não encontra chuva
na vida,
nem no poema.
O DITO E O NÃO DITO
As palavras são cruéis e desobedientes;
não são humildes servas.
Fazem-nos cócegas
e depois que saem da boca,
não tornam a ela,
por mais que imploremos;
mas também não vão embora;
ficam ressoando no ar
e nos perseguem para sempre.
Por isso, busco o silêncio;
só ele nos deixa em paz.
As palavras...
prefiro prendê-las no papel.
Se viro a página
ou fecho o livro,
as silencio.
Vingo-me.
Torno-me rei.
PECADO
Enquanto o tempo,
de presente,
passa frio
e calmamente,
a nau naufraga
no líquido
viscoso e quente,
entrando na
marcada caverna molhada,
que a engole
tempestuosamente.
Mas quem poderá dizer
o que é pecado
aos olhos de Deus?
A natureza, impetuosa,
não respeita o aviso
do vento
e enquanto Deus
dá um bocejo,
ela satisfaz
o seu desejo.
SÓ FALTA VOCÊ
Ouvi Rita Lee,
aqui e ali;
e um belo dia
resolvi mudar
e fazer tudo
que queria fazer.
Não quis mais esperar
o sonho acontecer.
Chutei o pau da barraca
e o pau do marido;
soltei um grito de guerra no ar
e ele, um grito de dor no chão do bar,
que desfez o lar.
Foi-se o tempo de sonhar!
A culpa é do marido ou do bar?
Elementar:
seus caros amigos,
inimigos,
perigos,
libidos,
casos perdidos,
amores vividos,
bandidos...
Tempos idos.
AMOR PERDIDO
O coração fica magoado
quando relembra o passado.
Folha negra, virada;
fica o avesso.
Folha seca, levada;
fica o movimento,
o barulho do vento.
MARINGÁ
Homens vindo, o machado abrindo trilhos,
o trem cortando a mata desbravada...
Em clareiras mulheres tendo os filhos
que ergueram a cidade tão amada.
Maringá, com seu jeito de menina,
valente mãe, belíssima senhora,
tem tanto encanto, tanto, em cada esquina,
que dela ninguém mais quer ir embora.
Aqui nascidos ou de outras paragens,
seus amores, os de ontem e os de agora,
amam seu verde, as flores, as paisagens,
que a tornam mais formosa a cada aurora.
Seus bosques e jardins a fazem linda,
Maria verde, das flores, do Ingá;
menina forte, de beleza infinda,
mulher sem medo, jovem Maringá.
Aqui plantei meus pés, criei raízes...
Digo por isso, e canto, a toda hora,
que a todos Maringá fez mais felizes
e mais bela é a Cabocla do que outrora!
TROVAS
No colo do solo bruto,
se a semente é bem tratada,
por prêmio colhe-se o fruto
da esperança ali plantada.
Separando nossas vidas,
um imenso abismo existe.
Mas, por pontes já caídas,
volta o amor e ainda insiste.
Mira a “boneca” o “pendão”,
que a contempla lá de cima...
- É o milho em fecundação
pra safra que se aproxima!
Se nada é assim tão lindo
do jeito que foi sonhado,
que tudo seja bem-vindo...
e vindo, que seja amado.
De nada vale uma imagem
de Cristo em sua parede,
se você nem tem coragem
de dar água a quem tem sede.
Não há fronteira na vida
que separe um grande amor,
quando a ponte foi erguida
pelas mãos do Criador.
Carrego pouca bagagem
porque, na vida, aprendi
que, mesmo longa a viagem,
preciso apenas de ti.
Seja o pão da comunhão,
a água que jorra da fonte;
e, pra salvar um irmão,
sobre o abismo, seja a ponte.
Quando o amor fica em ruína,
sem chão, paredes... ou teto,
o alicerce nos ensina
que só o carinho é concreto.
Diante do encanto desfeito
por promessas não cumpridas,
eu sempre encontro outro jeito
de entrelaçar nossas vidas.
Quando é longa e dura a estrada,
nós sempre aprendemos tanto,
que as conquistas, na chegada,
têm sempre o dobro do encanto.
No coração trago a estrada
e, no olhar, terras sem fim...
Mas a rotina, malvada,
fez cercas no meu jardim.
No rosto, um leve sorriso
disfarça a dor da saudade...
- Há vezes em que é preciso
fingir a felicidade.
Em algo simples se encerra
raro prazer e emoção:
- O cheiro que emana a terra
quando a chuva cai no chão.
Renúncia maior não há,
que a da mãe que empunha a enxada,
e o que pode... aos filhos dá...
Seus sonhos, seu chão, seu nada!
Todos sairiam felizes,
com sentenças mais corretas,
se, em tribunais, os juízes
dessem lugar aos poetas.
Carinho também se vende,
e há quem faça até leilão...
Mas quem compra não entende
que não leva o coração.
CONTOS
FEITA DE LUZ
Expulsa da cidade, acusada de atrapalhar o sono dos justos, roubando-lhes a negritude da noite, onde todos os gatos são pardos, abrigou-se no campo, num pequeno sítio ao pé da serra, longe de vilarejos e longe de gente de todos os tipos.
Deixou, no antigo apartamento, quase toda a mobília, as roupas de seda, os saltos altos, as lembranças inúteis.
Com o pequeno filho sempre junto ao peito, carregou consigo apenas o necessário, as roupas de algodão, uma botina, algumas recordações agradáveis, não muitas; e seus livros, todos, sem esquecer nenhum título.
No meio do caminho, deu carona a um tipo estranho, grande, negro, mudo, que, por assim o ser, não pôde dizer como era chamado.
Chegando àqueles campos, que seriam seu refúgio, respirou o ar puro da natureza que os acolhia sem pudores ou preconceitos. Cumpriria naquele lugar o seu destino. Desceu para abrir a porteira, carregando o filho, junto ao peito, como sempre o mantinha. Mais tarde, ao fechá-la, deixaria definitivamente para trás todo o seu passado de busca e escuridão.
Ao descarregar as malas, dispensou imenso cuidado a uma delas, por conter seu último par de asas.
O negro carregava os livros que não sabia decifrar.
Na casinha branca, de varanda, aguardou o motorista do caminhãozinho que havia transportado a pequena mudança. Antes de ir, após receber seu pagamento, não se conteve e perguntou à mulher sobre os livros, tantos eram.
Ela respondeu que eram o seu alimento; e ele foi-se embora sem entender, mas sem disposição para mais questionamentos.
Há louco pra tudo, mesmo... Livros, pra que tantos livros nesse fim de mundo, ficou pensando o motorista, que de leitura nada sabia.
Sem ter para onde ir, ou quem por ele esperasse, o negro ficou por lá, mudo, arando o campo, tentando descobrir os segredos da terra e da mulher.
Ela também cultivava o solo, descobria os seus desejos, fecundava suas entranhas.
Cuidava do filho com esmero e amor.
Mantinha a casa limpa e arrumada.
Criava pequenos animais, fazia o pão.
De dia era assim. Parecia uma mulher comum, porém dotada de especial brilhantismo, inteligente, dessas heroínas que existem em todo o mundo e que conseguem assumir tantas funções, porque aprenderam a mágica e se duplicam; ou até mesmo se transformam em muitas, sem que os homens se deem conta da magia realizada.
De noite era outra. Abandonava os trapos de algodão; vestia-se de luz. Bebia o estrato dos imortais e inalava seus perfumes. Nutria-se de poemas.
Espargindo um líquido denso, que brotava ritmado, dava de mamar ao filho e fazia-o dormir ouvindo doces palavras.
O negro, mudo, assistia a tudo como se sonho fosse e, sem acreditar que pudesse existir mulher assim, feita de palavra e luz, em todas as noites era tomado por uma agradável sensação e adormecia, sentindo um cheiro muito bom e sonhando o mesmo sonho.
Depois de adormecidos, o menino e o negro, a mulher ainda permanecia acordada, devorando incontáveis páginas.
Quando se sentia extasiada, vestia seu par de asas e sobrevoava as cidades, como verdadeira heroína alada, exorcizando as dores e a ignorância do mundo, espargindo sobre os homens um pouco de si, noite após noite.
Nada mais tendo a doar e estando leve como uma pluma, não mais batia as asas, flutuava. E, nesses instantes, olhava o mundo por cima dele; e chorava. Chorava porque via o quanto os homens ainda precisavam de poemas, de magia, de sonhos. Ainda havia muito o que salvar...
Então voltava, recolhia as asas e deitava-se para repousar um pouco e recomeçar outro dia, sugando da terra e dos livros novas energias.
Em suaves momentos, observava os primeiros passos do filho. Preparava-o para ser seu sucessor. Mesmo sabendo que, por ser homem, o filho teria mais dificuldades, desejava passar-lhe toda a sua heroica sensibilidade, toda a sua mágica e toda a sua luz. Tinha esperanças.
Assim se passaram os anos.
Depois de toda uma vida feita de luz, a mulher entregou a asa ao filho e adormeceu para sempre, amparada pelo bom amigo negro e inculto, que se despediu falando com os olhos.
Foi tranquila, conhecendo o futuro que dera ao filho.
De longe, ainda pôde ver quando ele pôs a velha asa na mala, disse até logo ao negro, e saiu para percorrer o mundo; e ser poeta.
COISA DE ASSOMBRAÇÃO
Povo de sítio sempre dormiu com as galinhas.
Na fazenda São Bento não era diferente. A fazenda ficava na água da Figueira, município de Rancho Alegre, no Paraná. Era uma fazenda de café rodeada por outros sítios e fazendas de gado. Quando os relógios anunciavam vinte horas, os donos e empregados já estavam todos dormindo, pois se levantavam antes das cinco da manhã, prontos para o trabalho.
Naquele ano, que devia ser 1955 ou 1956, aconteceram coisas muito estranhas por aquelas bandas.
Os colonos da fazenda começaram a ver assombração todas as sextas-feiras.
No início, só escutavam. Por volta da meia noite, uns e outros começaram a ouvir rezas e cantorias, dessas praticadas em funerais.
Logo se espalhou a história de que era a alma atormentada do coronel Bento, antigo dono da fazenda, avô dos atuais donos, que havia sido enterrado sem féretro, contrário à sua vontade. Diziam que o coronel queria um enterro pomposo, em um luxuoso caixão, mas os filhos, vingando-se da austeridade do pai, não quiseram satisfazer o desejo do velho.
Diziam que o fantasma do coronel estaria fazendo seu próprio funeral, ajudado por outras almas penadas. Mas ninguém se atrevia a abrir a janela de sua casa para olhar lá dentro da escuridão noturna e confirmar a história que já estava se tornando lenda.
Somente o Dito, apenas ele, por causa de uma aposta que acertaria suas dívidas na vendinha de seu Noca, atreveu-se a olhar pela janela entreaberta da sala de seu casebre.
Viu então um grande caixão sendo carregado por quatro homens, que murmuravam cânticos fúnebres; sobre o caixão, seis velas acesas.
Fechou depressa a janela, enquanto gritava:
- Alma penada, alma penada... Deus de amor!
Depois dessa aparição, ninguém mais, na colônia, saía de casa após as nove, nem ao menos deixava as janelas abertas nas noites quentes, para refrescar, ou apreciar a lua. Toda sexta-feira à noite, as almas penadas passavam pela colônia rumo ao rio, nos fundos da fazenda. O povo sabia disso e respeitava, ou melhor, temia.
Por essa mesma época, Zacarias, um dos donos daquelas terras, neto do coronel Bento, começou a sentir falta de algumas sacas de café de sua tulha. Sumiam em pequenas quantidades, sem que ninguém visse serem roubadas.
Enquanto Zacarias pressionava os empregados, estes ameaçavam ir embora; um pouco por causa da desconfiança do patrão e muito por medo da assombração.
Mas a cena do enterro continuava a acontecer; e o café a sumir.
Logo chegaram à fácil conclusão de que o avô Bento estava reclamando a sua parte dos lucros, aquela que os descendentes haviam deixado de gastar com o seu funeral. Nada era mais justo, consideravam alguns; coisa do demônio, diziam outros; o jeito é rezar, concluíram todos.
As coisas somente mudaram por aquelas bandas no dia em que houve o estouro da boiada do sítio vizinho, o Água Benta.
Faltava pouco para a meia-noite. As almas penadas já estavam passando com o caixão em frente da última casa da colônia e seguiam em direção do rio, quando, por causa de uma cobra que o picara, o boi Zebu rebentou a cerca, sendo seguido pelo resto da boiada.
Não houve jeito nem tempo para ter medo; os empregados tiveram que sair atrás do gado, para trazê-lo de volta.
Os boiadeiros deram então de cara com o tal enterro de almas penadas, que haviam sido atropeladas pela boiada.
Desfez-se, naquela noite, o mistério da fazenda São Bento.
Quatro homens abandonaram o caixão no meio do pasto e saíram correndo em disparada lá pelos lados do rio.
Ninguém teria tido coragem de ver o conteúdo do caixão se ele não tivesse se quebrado com a queda.
Dentro dele, nenhum vestígio do corpo ou da alma do velho coronel Bento. O que havia, isso sim, eram quatro sacas de café, que estavam sendo roubadas da tulha por moradores do outro lado da água da Figueira.
Achando graça do método utilizado e da originalidade do roubo, o delegado não prendeu os meliantes. Eles tiveram que devolver o café desviado e, por mera precaução, porque não se deve brincar com essas coisas, foram obrigados a fazer um belo túmulo para abrigar os restos mortais do coronel Bento.
O túmulo fora construído, mas a pena não pôde ser totalmente cumprida, porque não acharam os ossos do coronel. Em sua antiga vala, nenhum vestígio do corpo ou da alma do velho Bento; apenas germens.
Somente o Dito, apenas ele, continuou jurando que aquilo que vira era mesmo coisa de assombração.
OS PÁSSAROS
Nascidos ali, germens da terra, aquelas duas crianças, primos de sangue, irmãos de coração e de alma, cresciam felizes, livres, soltos, escapando, nem sempre ilesos, de uma arte atrás da outra.
Naquela fazenda, longe das cidades, nem tanto pela distância, mas pela lama ou poeira das estradas, não havia luz elétrica. Portanto, não conheciam a televisão, o videogame, o computador e todos esses outros instrumentos que, hoje em dia, mantêm as crianças longe da fantasia dos tempos de outrora.
Faziam seus próprios carrinhos, brincavam nos riachos e engoliam peixinhos vivos para aprenderem a nadar, faziam balanços nos galhos mais altos das árvores, percorriam longas distâncias atrás da borboleta mais bela, velavam os bichinhos que matavam durante suas experiências e preparavam-lhes enterros pomposos, com direito a oração e coroa de flores.
Protagonizavam histórias de príncipes e princesas, falavam com os animais, atormentavam os gansos, domavam os bezerros, montavam nos cavalos e fingiam que eles eram dragões.
Percorriam o milharal em busca da boneca mais bonita e escolhiam loiras, ruivas e morenas, que se transformavam em amigas queridas quando a mágica acontecia.
À noite, corajosos e destemidos, exploravam o escuro do terreiro entre as casas da colônia, na expectativa de um encontro com o saci-pererê ou a mula-sem-cabeça.
Entravam em casa só na hora de dormir, sob as ameaças das mães, que sempre lhes juravam a tal surra de vara de marmelo que eles ainda não tinham experimentado.
Noutras noites, mais poéticos que destemidos, buscavam os vaga-lumes e contavam estrelas, enquanto ouviam a sinfonia dos grilos e dos sapos do mundo do poço.
Quando chovia, ficavam sentados, concentrados, em volta da mesa da cozinha, sob a luz do lampião-de-gás, ouvindo o tio Darci contar histórias de assombração vivenciadas por conhecidos seus daqueles e de outros tempos.
Um dia, apareceram por lá duas pás-carregadeiras, contratadas para fazerem uma represa nos fundos da fazenda.
Os dois não gostaram da invasão e não saíram de casa com medo daqueles monstros barulhentos, com armadura de aço, que, em plena luz do dia, comeram imensas quantidades de terra e deixaram um grande buraco por onde passaram.
Mas gostaram muito quando, em alguns dias, a chuva encheu o buraco, transformando-o em um grande lago.
Não tiveram dúvida:
- Vamos navegar!
Buscaram o velho caixote de preparar cimento, tocaram-no com a varinha mágica e transformaram-no em um lindo barco vi king.
A menina, mais velha, ajudou o primo a subir no barco e o seguiu depressa, empurrando a margem com uma das pernas para que se afastassem para longe, com a força do pensamento e do remo improvisado.
Antes de alcançarem o centro o lago, tão grande para eles, a água invadiu rapidamente o barco e, nesse momento, um colono estragou a aventura das crianças, retirando-as, totalmente embarreadas, daquele mergulho até o fundo.
Naquele dia, sem entenderem as razões, experimentaram a varinha de marmelo, enquanto eram lavados com bucha e sabão de coco. Ficaram com marcas na bunda e nas pernas, mas a alma não entristeceu.
- Amanhã vamos voar!
Voaram. Algumas escoriações apenas e um corte na cabeça foi o saldo da primeira vez, mas voaram; e voavam cada dia melhor, mais alto, para mais longe.
Quando chegou a idade de irem para a escola, a família viu-se obrigada a se mudar para a cidade. Era preciso estudar os filhos para que eles tivessem uma vida melhor, pensava o pai.
Foi a cena mais triste que vi ou que vivi em toda a minha vida.
Não queriam ir e não havia espaço suficiente para os dois no caminhão na mudança, pois não conseguiam entrar levando tudo que lhes era imprescindível.
Os pais não pestanejaram. Não tiveram dó nem piedade: cortaram-lhes as longas asas.
Pelo vidro, lado a lado engaiolados, enquanto enxugavam as lágrimas, fitavam o monte de penas que embelezava o chão vermelho.
Mantiveram-se assim enquanto se distanciavam.
Mantiveram-se assim até que o vermelho do chão se misturou ao vermelho do pôr-do-sol, o branco das penas se misturou ao branco das nuvens e tudo se perdeu no horizonte para nunca mais sair da retina daqueles olhos, que um dia foram olhos de pássaros.
O PRESENTE DO VOVÔ
Eu era a caçula de seis irmãos e morávamos na fazenda que meu pai possuía, perto da cidade.
Estudávamos na escolinha que havia na cabeceira da fazenda, perto da qual também existiam uma pequena mercearia e a igrejinha. Ali eram feitas grandes quermesses e vinha gente de toda a vizinhança, o que realmente lotava o lugar, pois em nenhuma das fazendas de café havia menos que cinco famílias.
Como eram gostosas aquelas festas! A de São João era um estouro. Tinha a reza do terço, hasteamento das figuras dos santos nos mastros, queima de fogos, quadrilha, comidas típicas, fogueira e outros folguedos. À meia-noite, várias pessoas passavam descalças sobre as brasas da fogueira. Lembro-me de que, desde muito pequena, brigava contra o sono para estar acordada nesse momento. Pensava que um dia também teria a coragem e a fé, que, segundo os praticantes, eram os únicos segredos para não queimar os pés.
O Natal, então, era pura alegria. Ficávamos sempre encantados com o presépio da igreja e emocionados com o momento que representava o nascimento de Jesus, quando uma criança da comunidade, vestida de anjo, entrava na gruta para colocar o menino Jesus na manjedoura. Todos batiam palmas com intensidade, muitos deixavam rolar algumas lágrimas e alguns, dentre eles minha mãe, choravam mesmo.
Quando voltávamos para casa, o Papai Noel já havia deixado o presente ao lado do sapatinho posto na janela.
Meu avô Antônio cantava e tocava sanfona em todas essas festas. Todos gostavam dele e, muitas vezes, convidavam-no para contar causos, como diziam os colonos.
As pessoas reuniam-se no terreirão da fazenda, sob a luz das estrelas e do lampião de gás, para ouvi-lo contar suas histórias, que faziam pequena a noite, trazendo mais rápido o raiar dos dias de domingo.
Quando minha avó morreu, vô Antônio tornou-se amargo e triste. Já não brincava conosco, nem cantava, nem tocava, nem contava histórias.
As festas, sem a sua presença, não tinham mais a mesma alegria, e as noites tornaram-se mais longas. Talvez quisesse que todos sentissem, tal como ele, a falta da vovó. Achavam falta dele e lembravam do motivo de sua ausência e de sua tristeza. Conseqüentemente, recordavam da vó Ana. Era assim que eu pensava, ou penso agora, não sei.
Vovô realmente não se conformava com a morte da companheira de mais de cinqüenta anos. Dizia não poder imaginar o que teria feito para que ela partisse sem ele.
Prometeu, então, que esperaria por ela em silêncio, para poder ouvir quando ela o chamasse.
Disse-me, um dia, que só tocaria novamente a sua sanfona quando vovó viesse buscá-lo. Tocaria e cantaria para ela e para se despedir de nós e deste mundo.
As pessoas, inclusive meus pais, achavam que vovô havia ficado louco, ou melhor, que ele já estava caduco, gagá. Diziam que ele, de tanto inventar histórias, chegara ao ponto de inventar uma na qual realmente acreditava.
Eu não entendia, porque todos os que diziam essas coisas também sempre disseram que vovô era um homem honesto, honrado e que sua palavra valia tanto quanto uma nota promissória. Então, vovô não mentia e, portanto, eu acreditei nele.
O certo é que se passaram mais de três anos e vovô permanecia quase sem conversar, sentado na varanda, em sua cadeira de balanço, com a sanfona ao lado.
Naquela noite, véspera de Natal, estávamos todos reunidos na varanda, clara pelo brilho da lua cheia, passando o tempo com conversa fiada até que chegasse a hora de dormir e o Papai Noel pudesse entrar sem ser visto.
Quando o sono já se aproximava, notei que vovô sorria, olhando longe, lá fora, para o carreador.
De repente, pegou a sanfona e começou a tocar e cantar baixinho, com a voz sem treino, rouca e cansada.
Assim que terminou a canção, fechou os olhos; e permaneceu ali, com a sanfona sobre o colo e um sorriso no rosto, segundo a minha lembrança de menina.
Meus pais choraram muito, mas eu não consegui encontrar motivo para ficar triste; só achei que ele tinha recebido o seu presente antes da hora.
Ninguém viu vovó vir buscá-lo, como ele dizia que aconteceria, mas acreditei ter sentido a sua presença. Então me explicaram que isso era coisa de crianças pequenas, que do mesmo modo que os vovozinhos, já gagás, confundiam suas histórias e seus sonhos, confundiam a realidade e a fantasia; e acreditavam em Papai Noel.
Novamente não entendi, porque aquilo que senti, sabia ter sentido.
Ao amanhecer, o presente do Papai Noel estava lá, ao lado do sapatinho posto na janela.
A TULHA DA FAZENDA
Lá na fazenda do meu pai havia uma tulha mal-assombrada.
Fora construída pelo antigo dono da fazenda, o senhor Yoshida, para o armazenamento das sacas de café.
Para evitar umidade, o assoalho estava construído cerca de cinqüenta centímetros acima do chão. O telhado, de duas águas, foi feito com caídas acentuadas, de forma que desse para abrir uma porta lá em cima, bem no meio, parecendo sótão; mas, por dentro da tulha, não havia divisão. Dessa porta saía uma rampa, que terminava no terreirão acimentado, onde era secado o café.
Enchia-se a tulha pela porta de baixo, descarregando-se as sacas de café diretamente do caminhão. Quando as pilhas já passavam da metade da altura da tulha, os colonos subiam a rampa com as sacas nos ombros e as jogavam, até que chegassem ao nível da porta, lá em cima.
Era uma próspera fazenda, até que, em 1970, uma desgraça aconteceu com a família do senhor Yoshida. O mais novo dos seus cinco filhos morreu de forma trágica. Estava voltando da cabeceira da fazenda, de trator, junto com um dos empregados. Como os tratores só têm um assento, ele ia de pé, ao lado do motorista, apoiado em seu ombro.
Por causa de um buraco, o menino perdeu o equilíbrio, caiu e o pneu traseiro passou sobre sua cabeça. Morreu na hora.
Logo depois do enterro, a família pôs a fazenda à venda.
Conta-se que o senhor Yoshida enterrou o filho embaixo da tulha, porque ali nunca mais passaria nada sobre ele.
Meu pai comprou a fazenda em sociedade com um dos seus irmãos, e as duas famílias se mudaram para lá. Eu tinha cinco anos. Juntando-se os primos e os filhos dos colonos, havia muitas crianças. Brincávamos por toda a fazenda, o dia inteiro. Mas, logo que chegamos, fomos avisados pelas outras crianças que a tulha era mal-assombrada.
Não acreditávamos, é claro.
- É verdade sim, dizia Carlinhos, o filho do Tonho. Às vezes, à noite, o menino, enterrado embaixo da tulha, começa a chamar pela família. Dizem que ele sente frio porque seu túmulo nunca pega sol.
- Que nada! Vocês acreditam em tudo que dizem... São é medrosos, isso sim - dizia eu.
Por via das dúvidas, quando voltávamos para casa já meio escuro, dávamos a volta pelo outro lado do terreirão para não passar em frente da tulha.
Mais tarde, por causa das geadas, que acabaram com os pés de café, meu pai mecanizou a fazenda para a plantação de soja e trigo.
Com o tempo, construiu um armazém de alvenaria, mais moderno; e a tulha foi ficando sem uso, envelhecendo no abandono. A rampa apodreceu aos poucos, caiu, não foi arrumada. E, assim, a tulha foi adquirindo mesmo uma cara de mal-assombrada.
À noite, nas fazendas, naquele tempo, ainda sem luz elétrica, reuniam-se as famílias em volta da mesa da cozinha, sob a luz do lampião, para conversar um pouco, antes de dormir.
Contavam-se causos, e nesses momentos a história da tulha mal-assombrada era sempre lembrada. Sempre havia alguém que já tinha ouvido os lamentos do menino, reclamando de frio, querendo sol.
Certo dia, Carlinhos provocou:
- Se não acredita, vamos até lá hoje à noite. Quero ver o quanto você consegue ficar.
Eu, como neta de espanhóis, de sangue quente, não podia deixar de aceitar o desafio, não permitiria que ninguém me chamasse de medrosa.
Quando todos de casa já haviam se recolhido, saí de mansinho e fui ao encontro de Carlinhos em frente da tulha, na hora marcada. Cheguei primeiro; ele não estava lá. Esperei uns dez minutos, lutando contra o medo, sem conseguir amenizá-lo. Ao contrário, ele tomava conta de mim, de tal forma que eu não mais sabia se conseguiria sair dali com minhas próprias pernas. Não mexia um músculo sequer. Apenas os ouvidos mantinham-se atentos, enquanto o bater mais forte do coração quebrava o silêncio da noite fria. Tremia, não sei se de frio ou de medo.
Depois de certo tempo, para mim certamente muito longo, ouvi a voz do menino reclamando:
- Tenho frio... Tenho frio...
Não sei, com certeza, o que aconteceu. Quando dei por mim, já estava em casa, ofegante, do lado de dentro da porta da cozinha. Corri para a cama e puxei a colcha até que ela cobrisse totalmente minha cabeça.
No dia seguinte, logo cedo, Carlinhos apareceu em casa, desculpando-se pelo bolo. Disse que sua mãe viu quando estava saindo e mandou que voltasse.
Notei um certo ar de cinismo e ironia em seu rosto. Minha impressão era de que ele tinha me pregado uma peça.
Passaram-se muitos anos desde então. Há muito moramos na cidade, mas a família de Carlos continua na fazenda.
Até hoje Carlos jura que não foi ele. Até hoje fico na dúvida.
Meses atrás, meu pai chegou em casa dizendo que tinha mandado derrubar a velha tulha; iria plantar goiabeiras no local.
Ontem fui até a fazenda. No local onde o filho do senhor Yoshida foi enterrado, brotou um lindo pé de chorão, que cresceu de um dia para o outro, desenvolvendo-se, segundo os empregados, de forma espantosa.
- Está vendo? - disse Carlos. Foi só derrubar a tulha e o sol bater sobre seu túmulo, que o menino parou de chorar de frio.
Em certo momento, sentei-me ali, no velho terreirão, em frente ao pé do tal chorão. Não vi o tempo passar, e a noite chegou. Não fui embora. Percebi que não tinha mais medo, mas senti algo estranho.
O vento envergava os galhos do chorão para um lado e para o outro e o som que ele produzia parecia um lamento.
Por um instante, senti pena, simplesmente pena, uma tristeza sem explicação. Pareceu-me tão só, ali, no meio da fazenda...
Num gesto impensado, levantei-me, colhi algumas margaridas, que cresciam beirando o terreirão cimentado, e coloquei as flores junto ao tronco do pé de chorão.
CRÔNICAS
SOBRE OS TRILHOS
Nada havia... Ninguém jamais tinha se aventurado pelas entranhas da floresta misteriosa.
Por respeito ou medo, nenhum homem pisara, ainda, o solo escuro e úmido. Apenas a mata reinava, triunfante, majestosa, numa paz que se perderia para sempre.
De outras plagas, vieram homens barulhentos, com seus machados e serrotes, quebrando o silêncio de pássaros dormindo. Cortaram árvores e atearam fogo, clareando as noites com o cheiro de óleo queimado, cheiro de morte e progresso. Fizeram picadas, abriram clareiras. Sem dó nem piedade, violentaram a mata, rasgaram o ventre da terra virgem.
Sob lonas pretas, de mulheres valentes nasceram os primeiros filhos desta terra inóspita, onde construiriam suas vidas com suor e sangue.
Depois vieram os trilhos, o trem cortando a mata desbravada. Sobre os trilhos, encarrilhando a história, tudo vinha, tudo ia, tudo se transformava.
A madeira tombava, as casas eram erguidas. Ao redor da primeira igreja, a primeira hospedaria, a primeira escola, o primeiro boteco, o primeiro comércio de secos e molhados.
Sobre os trilhos, e depois sobre jipes e caminhões, que cortavam estradas esburacadas, empoeiradas ou lamacentas, levas e mais levas vieram, e continuaram vindo. Eram homens e mulheres cheios de esperança, coragem e vontade de enriquecer na terra prometida.
Do trem desceram também as primeiras mulheres pintadas, de vestidos rodados e cheiro de colônia, que alegravam os homens sozinhos, e também os casados. Tantas histórias... Personagens de muitas delas, mulheres encostadas no fogão, alisando chão de terra batida com barro e carvão, parindo os filhos na garra, lavando as roupas debaixo de um vento feito de pó, fazendo novenas... Mulheres cansadas da lida! De outro lado, maridos suados, no trabalho pesado, e, noutras cenas, fazendo filhos ilegítimos com aquelas que vendiam o que tinham... Mulheres cansadas da vida!
Contam-se ainda histórias de anjinhos que não sobreviviam à rudeza da falta de conforto e assistência, de homens que matavam por mais um palmo de terra, de amores e traições... Tantas histórias...
Com meus pais e uma irmã mais velha, chegamos com quase nada. Era pequena a mudança, tudo que tínhamos cabia na carroceria de um caminhãozinho velho.
Eu também faço parte dessa história. Vim menina, magricela, e nada mais trazia comigo além de um pequeno embornal com algumas pedrinhas de jogar e um punhado de sonhos, não muitos, apenas o quinhão que me cabia aos cinco anos.
A cidade aberta na mata já era uma moça bonita, viçosa e cheia de promessas.
Perdi de vê-la engatinhar, de dar os primeiros passos... Não vi a derrubada da mata, não vi ser levantada a primeira casa nem ser aberto o primeiro comércio, mas ainda havia muitas ruas e estradas a sua volta onde se podia atolar.
Com o tempo, meu pai também comprou um jipe e era comum encontrá-lo colocando correntes nos pneus... Era uma estratégia utilizada para vencer as subidas e outros trechos mais difíceis das estradas em dia de lamaçal.
Para quem tinha pouca idade e pouco juízo, tudo parecia muito divertido. Poeira? Desenhávamos nos vidros dos carros e das casas, e nasciam ali as primeiras letras e as mais belas paisagens. Lama? Fazíamos panelinhas e bonecos de barro... Verdadeiras estatuetas, dignas de exposição. Era a arte, ou a “arte”, brotando da fértil terra vermelha que a floresta nos deu como resposta.
Se o começo foi difícil, se nem todos os valentes pioneiros têm busto na praça, se existem deslizes e trechos menos poéticos nessa caminhada, se algum sangue foi derramado junto com o suor de uma brava gente, parece-me tudo perdoável...
Este é o lugar que se fez nosso ninho e nele deixamos nossas marcas.
Da esperança aqui plantada, quantas bênçãos já colhemos!
Nascidos aqui ou de outras paragens, somos, todos, filhos desta terra por escolha e pelos mandos do coração.
As estações não são mais as mesmas e o trem não mais apita pelos caminhos, mas entramos para sempre nos trilhos dessa história.
NA SAFRA DA VIDA, A MAGIA DAS CORES
No espelho não mais encontro aquela jovem que um dia foi a noiva de branco a se olhar uma última vez antes de se entregar... Um último retoque nos negros fios encaracolados; uma última ajeitada na grinalda de flores de laranjeira... e pronto! Tão linda imagem... perfeita! Estava ali a encarnação da esperança!
Tudo perfeito, afinal, naquele dia. Em cadeiras caprichosamente arrumadas sob a sombra do parreiral em cachos, amigos e familiares em sincera torcida... Quase toda a italianada da colônia...
As uvas pendiam roxas e perfumadas, indicando fartura e bons presságios ao alcance das mãos.
O noivo, de pé, no altar, com brilho de gel nos cabelos, vestia, com certeza, o seu melhor traje. Aguardava, aflito, a donzela que tomaria por esposa como quem espera, finalmente, começar a viver... Cheio de sonhos no olhar!
Não vi, ao caminhar em sua direção, nada além daqueles olhos de anil e promessas... Olhos que guardariam aquele momento para sempre em sua retina... Olhos que me diziam: - Venha, não tenha medo, ninguém aqui ousará ofendê-la, e hoje é o seu dia de rainha.
Unidos pelo santo laço do matrimônio, não mais enfrentaríamos a resistência dos sogros... Estava feito!
Outras safras vieram, ano após ano. Junto com a colheita da uva e a produção do vinho, comemorávamos o aniversário de casamento e, de quando em quando, a dádiva da vida sendo gerada em ventre fértil.
Nem tudo foi assim tão lindo do jeito que foi sonhado... Nem todas as promessas foram cumpridas... Algum encanto se desfez aqui ou acolá, mas tudo foi bem-vindo... Estávamos juntos na alegria e na tristeza, na saúde e na doença... Fomos abençoados com cinco valorosos filhos, que formavam lindo degradê, e nossas vidas estariam para sempre entrelaçadas.
Volto a me buscar no mesmo espelho da penteadeira de imbuia, na mesma casa caiada com as cores da terra... e o meu amor está de partida.
Busco-me no espelho e não me vejo. Na imagem refletida, uma outra habita. Insisto e me procuro naquela imagem de cabelos de neve cobertos... Não reconheço nenhum traço. Não vejo quem sou, não encontro quem fui quando trocamos o “sim” diante do altar...
Lembro-me dos olhos de promessas cheios... Éramos outros... Tão jovens!
A velhice enrugou o nosso olhar... Não me reconheço diante do espelho e meu loiro não pode me ajudar nesse momento, pois trava um longo combate com a morte, no quarto ao lado... Insisto, aprumo os óculos, fixo-me bem posicionada... nada! O velho espelho também exibe as marcas do tempo. Choro... e as lágrimas silenciosas escorrem lentamente, percorrendo os inúmeros sulcos esculpidos em meu rosto.
Recomponho-me! Aprendi a aceitar os punhados de dor que a vida me reserva e esconde entre tantos potes de felicidade.
Volto e sento-me a seu lado. Ainda ouço um último sussurro: - Te amo, minha nega!... E então, finalmente, me reencontro naquelas retinas, que sempre me viram além da cor e das marcas do tempo.
Firme, seguro sua mão até a travessia, com a certeza de que, na minha hora, ele estará me esperando na margem de lá, com a mão estendida..., e ao caminhar em sua direção não verei mais nada além daqueles olhos de anil e promessas...
Outra safra se aproxima e a saudade ainda machuca o peito, mas alegro-me com a chegada dos filhos ao nosso pedaço de terra neste cantinho do mundo.
A natureza novamente em cachos perfumados e coloridos...
Agradeço ao Criador da vida! O meu quinhão de alegria sempre foi maior que o meu quinhão de dor...
Meus filhos, participando da colheita da uva, são como bálsamo para os meus olhos... Lindos e fortes, uma mistura perfeita de raças, o branco e o negro em profusão de amor: na safra da vida, a magia das cores!